Califórnia dream

Califórnia dream
Vivi uma das experiências mais loucas e importantes da minha vida, recentemente, numa visita que fiz aos United States of América, mais precisamente ao estado da Califórnia. Era um sonho já de muito acalentado o de conhecer San Franscico, San Diego e de quebra – no ponta a ponta mais um ponto (presente da companhia aérea pro turista pobre que faz a ida e volta nas mesmas cidades, poder conhecer uma cidade a mais) – visitar a lendária New Orleans. Todo o planejamento da viagem consistiu em comprar as passagens com um mês de antecedência e ganhar um livro de presente de uma amiga sobre San Francisco.
Também pudera, viajar no meio de uma crise conjugal? Dá pra planejar o que? Nos reconquistar? Isso se planeja? Não seria o caso de viajar já planejando a volta quando o casamento já não mais existisse? Melhor não planejar nada de nada... E lá fomos nós. Amigos íntimos, como sempre, de mãos dadas e pacto selado, não se falaria nada do passado, muito menos do passado recente - mais precisamente do último caso de cada um, que cada um sabia que não tinha sido só um caso.
São Fransisco era mesmo linda com suas casinhas de boneca, seus bondinhos vermelhos com guias pretos subindo as ruas amarelecidas de sol sob um céu que nem precisava estar azul. Só tinha um defeito - como vi mais tarde ser comum a pequenas, médias, grandes, e enormes cidades americanas: as pessoas não andam nas ruas! O que, em San Fran, como a chamam por lá, tinha como defeito acessório fazer os turistas ficarem ainda mais evidentes.
Já nesse primeiro passeio de bonde – que pegamos na saída do metrô que nos trouxe do aeroporto e esperávamos descer o mais perto possível do nosso hotel – dava pra ver todas as dificuldades de um casamento cansado de aparar as diferenças, louco, aliás, por fazê-las explodirem. Eu achando tudo o máximo, soltando o corpo no ar do lado de fora do bonde, e rindo pra todo mundo, ele lendo os mapas e tentando entender o inglês do atendente. Descemos no ponto errado. Por que sobra pra você o lazer e pra mim o fazer?, ele dizia. Por que quanto mais eu relaxo mais você se tenciona?, perguntava eu. Qual é o problema de organizar melhor os destinos?, perguntava ele. Qual é o problema de curtir até os erros?, questionava eu.
Na minha opinião viajar junto requer arte, e quanto menos dinheiro mais arte! Todos os pequenos problemas que o dinheiro resolve fácil, quando não se tem dinheiro - mas se tem arte - viram divertimento; mas quando não se tem o dinheiro, nem a arte, viram sofrimento. Existem aqueles que sabem que não possuem arte alguma e que só viajam com dinheiro. Nós não. Topamos qualquer hotel, dormimos até em chão de aeroporto, comemos qualquer coisa – ou não comemos (fazemos dietas fantásticas viajando) -, andamos a pé todo o tempo e rimos, rimos muito. Mas não agora que o casamento estava cansado, que a idade chegava, que os filhos estavam preguiçosos, que o emprego era um saco, que o país não mudava nunca, que os sonhos de juventude já não eram fáceis nem de sonhar, quanto mais de realizar. Haja arte!
Mas estávamos ali, com a arte e a coragem que nos sobrara, inclusive a coragem de usar no limite o cartão de crédito. A receita de sempre: poupar com as coisas pequenas (comida, presentinhos, conforto) pra ter para as coisas grandes. Alugar um carro, por exemplo, que foi o que fizemos no terceiro dia de San Fran. Com o carro pudemos nos espalhar pela cidade e arredores. O estreamos na estrada para a inacreditável Salsalito. Como deve ser feliz quem mora ali! Que combinação entre natureza e civilização! Que morros lindos cruzados por caminhozinhos organizados! Que bom uso fizeram da cultura e do dinheiro! Uma vila chic aquele lugar. Poucos carros e muitos barcos, poucas ruas estreitas e muito verde, nenhuma grande loja e muitas pequenas, poucos pobres e muitos ricos! Não ricos brasileiros, que são muito poucos e compram gigantescos terrenos e constroem casas faraônicas - invariavelmente horrorosas -; ricos médios, ricos americanos, os ricos pertencentes a maior classe média do mundo.
Continuamos comendo a cidade pelas bordas (Palo Alto, Berkeley) pra deixarmos o recheio pro final, delicioso... O bairro gay, os murais pintados nas casas, o comércio alternativo, os núcleos russos, chineses, os super supermercados, e o que mais o nosso livro guia sugeria. Uma que outra coisa decepcionava, os armazéns turísticos do porto, pra mim, são turísticos demais; prefiro o agito menos desesperado por diversão das ruas normais.
Mas não foram só dias de beleza e alegria aqueles. Uma noite retornando do famoso Castro (um bairro gay que tem bandeira na entrada da rua principal e tudo) o maridão resolveu por tomar um porre legal. Nem me dei conta, pois ele tinha comprado uma garrafinha de wisky antes de fazer o rolé pelos bares. Tive que fazer um esforço descomunal pra colocá-lo dentro do carro. E como eu ia fazer pra achar o caminho de volta ao hotel sendo que, até ali, só ele havia pilotado carro e mapas? E pedir informações, e entender as respostas, com o meu inglês pão e água? (Quem me dera estar já no nível do macarrônico). Mas não é que eu consegui tudo direitinho?! Descobri o norte/sul/leste/oeste do mapa, entendi o que me informavam pela rua, reconheci as esquinas certas quando já estávamos quase chegando e, de saída, ainda me livrei de outro bêbado (bem mais mal intencionado) que forçou a porta da entrada do nosso hotel logo atrás de mim.
Por que ele tinha feito aquilo comigo, me deixar tão encrencada? Dia seguinte se desculpou dizendo que estava super cansado de meses de stress e que eu teria que dividir melhor o trabalho, e as decisões do que fazer principalmente, dali pra frente. Concordei. É verdade que quando a gente tem um homem na cola se descola no limite.
Depois de quatro dias em San Francisco decidimos partir logo pra nossa travessia da Califórnia; eu iria dirigir direto dali pra frente, que além da nossa combinação prévia, vimos que só eu tinha a carteira de motorista em dia. Decidimos muito tranqüilamente uma estratégia de viagem que agradava a ambos. Iríamos fazer o percurso da ida – até San Diego -, pelo litoral e o da volta pelo interior. Mesmo que ele conhecesse Los Angeles pararíamos por lá, seja porque pra mim era importante conhecer a maior cidade americana, seja porque ele quisesse me mostrar o quanto ela era horrorosa. Tudo resolvido, estrada!
E que estrada a one, ou, one! Vegetações e relevos um tanto variados à esquerda e mar e escarpa o tempo todo à direita. Nada daquele glamour da costa italiana que a gente vê nos filmes - com aqueles carros baratinhas e as mulheres de echarpes -, mas com o charme dos viajantes que tratam suas estradas como propriedade particular e que, aqui e ali, param seus furgões, camionetas ou trailers, e acampam nas beiradas. E a música? Rádios para todos os gostos! Tive a impressão que pra cada década de cada ritmo rock in roll havia uma rádio. Bem, também havia muitas rádios de falação política, e algumas de conteúdo mais cultural, histórico e político. Quando me dava muita vergonha de não entender nem as letras mais açucaradas das músicas, eu me castigava tentando entender o inglês dessas últimas.
Paramos em algumas das despretensiosas cidades de praia ao longo da rodovia. Dormíamos no carro pra poupar e porque nos agradava a aventura. Seguíamos um pouco pra dentro de uma ou outra estrada para conhecermos alguma das muitas e antigas missões franciscanas do tempo da colonização. Discutíamos como ninguém melhor os freis franciscanos para organizar a civilização de um mundo e a educação de um povo, eles parecem tão mais suaves. Os jugos todos do pecado gerido pela igreja, do poder gerido pelo estado, e do dinheiro não gerido por ninguém, deviam ser impostos por eles como se fora mesmo racional e superior.
Andávamos ao sabor do vento; tudo tranqüilo, talvez até demais. Paramos numa cidadezinha minúscula, daquelas que a gente vê os super astros da América contarem que saíram dali porque, de tão pequena, não tinha espaço pra eles; mas mesmo assim, eles pensavam voltar pra lá um dia, claro que depois de ficarem ricos e famosos. A cidadezinha - meio fantasma meio esperta (o que era visível na arrumação da rua principal como cenário de filme de cowboy) - nos foi levando, não sei como, para um certo beco onde começamos a discutir. Quando mesmo passamos de um casamento aberto (onde se pode até transar fora, mas não beijar na boca) pra esse estado de paixonite que ele estava vivendo? E o que mesmo eu estava tendo com o irmão daquela minha amiga? No meio da conversação resolvi lhe contar, por vingança, detalhes da transa última com esse outro - que a gente tinha combinado não contar. Ele respondeu à altura; e dentro em pouco estávamos discutindo a separação.
Sabíamos que por trás do sexo, era da nossa vida pouco sublimadora que falávamos. Estávamos pouco felizes em geral, e aí a responsabilidade que recai sobre o sexo fica insuportável. Sabíamos que procurar novas chamas acesas não resolveria o que fazer com nosso próprio fogo em vias de se apagar; mas, tanto eu, como ele, precisávamos da constatação de que pessoas ainda brilhavam por aí. A nossa debilitada capacidade de reinvenção precisava beber em algum lugar aquilo que antes bebíamos um no outro. Foi um dia tenso, dormimos no carro de novo pra poupar e pra nos poupar.
A próxima parada seria Santa Bárbara. Ali tínhamos o endereço de um casal, amigos de uma amiga. Eram dois professores universitários, cultos, inteligentes e muito atenciosos, que viviam num bairro de aposentados, muito simpático e elegante (que, constatamos depois, ser o caso da cidade quase inteira). Fomos muito bem recebidos, pudemos perguntar muitas coisas e obter muitas respostas. Depois de conversarmos até tarde, fomos dormir confortáveis numa cama macia, de um quarto de filho ausente, guardado com todo o carinho para as suas visitas serem o mais freqüentes. Relaxados e descansados, no dia seguinte cada um foi fazer coisas diferentes. Eu acompanhei nosso amigo num trabalho de voluntariado que ele fazia junto a um asilo, se é que se pode chamar “aquilo” de asilo. Aquilo era um hotel cinco estrelas! Melhor, porque não tinha jeito de Disneylândia pra adulto, tipo os metidos resorts; aliás, tinha mais jeito de pousada brasileira; cheio de uns corredores largos e iluminados pelo sol, calçadas cobertas que mais pareciam ruelas de uma vila qualquer. E ao longo dessas “ruazinhas” ficavam os quartos dos velhinhos, as salas disso e daquilo, as praças daquilo e disso. Tudo arrumadinho, limpo, cheiroso. Talvez um pouco demais...
Depois fomos ao centro da cidade, mas por todo lado, o que eu estranhava era a falta excessiva de bagunça. Parecia que em lugar algum, perto do asilo muito menos, a gente via crianças, jovens, escolas, e toda a algazarra a eles associada. Pobre então, não passava um! Patrões e empregados era toda a diferença visível, mas até estes se pareciam! De certo modo, até tinha mais gente nas ruas em Santa Bárbara que nas demais cidades em que passamos e ainda iríamos passar, mas as pessoas eram como se fossem todas uma só. Todos vivendo tão calma e organizadamente seu fim de vida que perdiam a noção da vida que continua fora da sua. Cheguei a preferir envelhecer na terra brasilis.
Almoçamos mais tarde, depois saímos todos juntos, foram nos levar para ver uma montanha próxima com um lindo visual. Quando voltamos já estava quase entardecendo, mas resolvemos mesmo assim ir correr na praia. Ainda conversávamos pouco, mas o suficiente para combinarmos meia hora de corrida pra mim, quarenta minutos pra ele. Fiz meus quinze minutos em linha reta e voltei sem vê-lo à minha frente; mas dei meia volta de novo pra ver se o alcançava já tendo feito ele a curva do retorno. A praia já estava ficando muito escura, voltei-me novamente para o lugar da partida, mas olhando sempre pra trás um tanto preocupada. Aquela praia deserta à noite naquele país estranho foi me dando um medo enorme. Repassei um por um todos os filmes de serial killers que eu vira na vida. Fiquei mais uns quase vinte minutos esperando e ele nada. Chamei uma mulher e comecei a lhe explicar o caso e a lhe pedir que me ajudasse a chamar a polícia que algo tinha acontecido ao meu marido. Ela tentava me acalmar dizendo que os homens adoram essas aventuras, que quando o meu marido voltasse eu devia lhe dizer como ele era bravo e corajoso. Curiosa, aquela mulher... e sábia. O Sr meu herói tinha se sentido tão forte e descansado que quisera correr mais, só isso; e a Penélope aqui que o compreendesse e admirasse. Fiquei tão preocupada, jurei que ele podia ter até morrido; minha agonia foi tanta que o soquei e abracei quando o vi. Todo feliz e orgulhoso dos seus feitos e dos efeitos que provocara em mim, essa noite me amou bonito, tal mesmo como herói grego.
E lá se foi mais uma vez a separação.
No dia seguinte nos despedimos do querido casal e continuamos viagem, que agora já era de lua de mel. Conhecemos então a mais inteira de todas as missões que vimos – La Sereníssima! Lá tinha de tudo, montado como era, com móveis e utensílios, tudo intacto. O prédio todo era incrível, por dentro e por fora. Tinha espaço pra tudo: alojamento pra todos os tipos de gentes, fabricações de todos os tipos de coisas, criações de todos os bichos (os que suportavam a secura daquele quase deserto), manifestações de todas as artes. Mas o que achamos mais interessante, foi a história contada no salão de entrada. Essa missão, como outras, tinha sido destruída n vezes por furacões, guerras e bandidagens. Um belo dia, um presidente recém empossado, de fato 27 depois de empossado, o Sr Franklin Delano Rooswelt, criou um programa de frentes de trabalho e colocou a população desempregada e desesperada pelos anos de depressão a reconstruir o país - o que não significava apenas estradas, pontes, barragens, mas o passado, a cultura, a arte; e então eles refizeram, quase do nada, de novo, aquela maravilha. Meu marido até chorou pensando na falta de responsabilidade e pressa dos nossos governantes; eu senti um misto de raiva e vergonha. Depois de vermos tudo, ainda deu tempo de procurarmos atrás do que outrora fora a grande cozinha, um lugar pra nos amassarmos, e fazermos de conta que éramos um padre e uma índia descumprindo todos os mandamentos.
Saímos felizes dali naquela manhã e continuamos a viagem em direção a Los Angeles. No caminho, entretanto, novo desencontro; parece que queríamos adivinhar o que o outro queria ao invés de dizer simplesmente o que queríamos nós mesmos. Assim qualquer decisão acabava indo para os pênaltis. No meio da nossa confusão mental as praias mais cheias de espécimes que a gente queria observar iam passando. Na retomada do “porquê não paramos” deu-se a maior confusão: eu disse que tinha dito que eu queria parar em Malibu, mas entendi que ele queria prosseguir; mas ele disse que disse que era ele quem queria parar e que eu é que não o entendi! Como nunca o entendia, como era autoritária, etc. etc. etc. Me segurei pensando na noite de amor da véspera.
Entramos em L.A. – adoro os apelidos das cidades – pela cobertura, Beverly Hills. Ficamos onde a cobertura derrete, na parte baixa dos morros, um tempão. De novo aquela dúvida: estes que moram aqui são os ricos dessa sociedade ou não? Bem, deu pra ver que os mais ricos mesmo moram subindo o morro, nesse e noutros que eu conheci depois. Mas as casas e as ruas destes daqui de baixo me interessavam mais. Pensei que todos ali deveriam ser profissionais liberais ou assalariados bem pagos de grandes empresas. De novo os terrenos pequenos e as casas que não brigavam pra se diferenciar umas das outras a qualquer custo. Aliás, no geral eles repetem sua arquitetura, não inventam, e acho que é por isso que cidades inteiras como San Francisco, ou pelo menos bairros inteiros como aqui, continuam mantendo uma personalidade, traduzindo a idéia de um povo. Talvez eles se exibam pros seus vizinhos mais pelos carros que pelas casas (como os holandeses se exibem por seus jardins). Ao subir o morro o poder do dinheiro ia mostrando suas garras, apareciam mais tamanhos do que gostos, mais matérias que harmonias, e as casas de fato mais bonitas iam ficando mais raras.
Uma destas estava à venda e aberta á visitação – uma open house como eles chamam. Eu quis entrar e felizmente não houve objeção do meu amado. Combinamos uma mentira, ele era funcionário de uma grande empresa brasileira que resolvera se instalar na parte de cima da América. E se perguntarem o quanto pretendemos gastar o que dizemos?, pensamos. Ah chuta alto, eu disse, uns cinco milhões de dólares! Na entrada ninguém nos perguntou nada, e fomos pesquisando os aposentos fabulosos da casa que, logo vimos pelos folhetos que estavam dispostos em todo lugar, estava avaliada em doze milhões. Na saída, manifestei desagrado pela mobília de algumas peças, donde o rapaz muito educado disse-me que seriam prontamente retirados móveis, quadros e tudo o mais que não agradasse ao comprador. Ok! Vamos pensar.
Que alegria cometer delitos tão inocentes. Isso nos rendeu uma tarde feliz depois da manhã conturbada. Mas já outra não concordância se insinuava. Ele me perguntava como eu poderia estar dizendo que estava achando aquela cidade monstruosa bonita? Eu tentava explicar: não tinha visto nada ainda, mas do que estava vendo a cidade quase não tinha prédios altos (nada comparado a um Rio ou uma São Paulo), as ruas eram todas quadradinhas, fácil da gente se achar a pé ou de carro, as horrorosas freeways não ficavam tão evidentes, e se tudo parecia meio árido talvez fosse menos por culpa do homem que da natureza; mas calma eu tinha visto muito pouco ainda. De fato, a avenida Hollywood naquela hora me pareceu uma rua brega como tantas nas capitais brasileiras, onde gente do interior pensa que está passeando quando compra buginganga barata (made in China, via de regra) que parece fina por que ao lado da loja tem um teatro faraônico (literalmente nesse caso) ou qualquer outra invenção ridícula (como a calçada da fama). Mas até isso eu achava que tinha um lado interessante. Afinal tinha mais gente na rua! E era gente deles mesmo, mais do que visitantes meio alienígenas como os europeus e asiáticos que vagueiam por San Francisco. De qualquer modo iríamos passar reto por LA, íamos pegar a free way – a certa de preferência -, até Venice beach, que o casal de Santa Bárbara tinha nos recomendado como a praia mais charmosa das redondezas. Daí, nos outros dias, veríamos o que fazer ou não em LA.
Amanhecemos naquela Veneza sem gôndolas num dia muito bonito. Curtimos um pouco de praia, andamos pelas calçadas que separam o mar das casas (apenas poucas praias nas várias cidades nesse litoral permitem ruas entre o mar e as casas), depois fomos comer num café super simpático, onde lemos muitos jornais locais cheios de notícias sobre aquela comunidade.
É incrível como pudemos ver o que todos nos diziam sobre como os norte-americanos participam da vida comunitária, seja nas discussões sobre seus bairros, cidades ou país. A gente não vê isso só nas bandeiras que eles penduram nos jardins e nas janelas das casas; a gente vê isso de mil formas. Naqueles jornais, por exemplo, eu me dei ao trabalho de contar o número de páginas que anunciavam a programação de assembléias, comemorações, encontros, eleições; que prestavam contas de resoluções, que esclareciam sobre a última polêmica com os poderes públicos, etc. etc.; num jornal de 40 páginas (desses de tamanho reduzido como é comum no sul do Brasil) 20 tinham a ver com tudo isso. E olha que já tinha começado a corrida pela eleição presidencial! Bem, tem a desvantagem do quão pouco eles se interessam pelo resto do mundo. Naquele jornal só duas páginas.
Estávamos curtindo o que gostávamos – e que a gente chamava de “turismo sociológico”. Mas a tensão estava ainda no ar. Talvez fosse novamente a falta de arte se manifestando, sentindo as costas reclamarem não ter dormido numa cama, ou o nariz, e o estômago, reclamando da opção pela cafeteria quando havia um maravilhoso restaurante bem em frente. Não, acho que não; a arte se manifesta quando existem as condições para tanto, havia outra coisa. O que seria? Seria pequena, grande? Qual seria pequena e qual seria grande? Será que era mesmo séria a nossa crise pessoal-profissional? Será que ela havia contaminado a nossa relação mais que afetiva, existencial? Será que ele tinha razão pra dizer que nos últimos tempos eu estava mais reclamona que o normal? Ou será que ele estava ainda chateado por eu ter confessado o sexo selvagem que eu tinha feito com outro animal? Ou por fim (que é o lugar do mais difícil de se admitir) será que ele estava sentindo saudades do seu caso no Brasil? Será que preferia aquele caso a mim?
O final da tarde foi em Palos Verdes. Mais uma linda vista do mar, da cidadezinha com uma igreja ainda viva do tempo dos espanhóis, das casas bem dispostas nos morros, da sociedade da classe média abastada. Entretanto, a decisão de ir pra lá não foi tomada sem algum stress. Isso começava a me incomodar sobremaneira. Qual o problema de errarmos o caminho, perderíamos o que? Haveria um único caminho certo a fazer? Não estávamos ali ao deus dará? Talvez não, talvez estivéssemos ali pra acabar um casamento de quase vinte anos...
Foi o que quase aconteceu de novo no dia seguinte.
Acordamos de manhã e fomos fazer exercícios de musculação num espaço público organizado pra isso em plena praia. Vazio - que pelo visto os yankes gostam é de comer mesmo. Embora ele gostasse mais que eu desse tipo de exercícios, eu não chegava a achar ruim, e tanto já me acostumara, que já começava a ficar como os mais viciados que sentem a maior falta. Só tinha eu de mulher ali, legal... Aliás, no geral as mulheres americanas parecem dar uma importância para a aparência ainda menor que o dão os homens. Era freqüente vermos casais jovens ou velhos onde eles aparentavam mais juventude, saúde e elegância que elas. Eu estava achando ótimo, a gente ali, mostrando pra aqueles gringos campeões da obesidade, como os brasileiros são, e gostam de ser, bonitos.
Certo, mas tem limite pro meu esforço. Uma hora pra mim deu! Já ele... Queria fazer tudo o que não tinha feito em duas semanas de viagem. Combinamos então que eu iria passear e voltaria ali em meia hora ou quarenta minutos. Fiz isso, e nada dele ter acabado. Nova combinação, eu iria pegar o carro, andar pelas lojas que ficavam perto da cafeteria do dia anterior e nos encontraríamos nesta em uma hora.
Meu problema começou quando o carro estava muito mais longe do que eu pensava. O problema continuou quando ao chegar no carro vi uma multa de 40 dólares - dava pra comprar comida suficiente pra dois dias ou ir jantar num lugar legal só pra variar. E não acabou porque eu me perdi (nosso mapa de LA não alcançava a região das praias) e quando achei o caminho já era a hora do encontro marcado. Mas a coisa piorou mesmo depois.
Quem começou, eu ou ele? Ele não devia estar mais feliz que eu? Não tinha feito tudo o que queria? Por que a cara de cú?
O que você quer fazer, disse num tom de cansado de mim. Qualquer coisa, respondi cansada dele. E assim fomos andando de carro pra sei lá onde. Eu gostaria de parar num supermercado, eu disse. Ele parou numa mercearia não muito grande. Eu digo que prefiro um super mesmo. Ele se informa e vamos atrás; ele se atrapalhando com os mapas e as indicações dadas pelo homem da mercearia. Era longe; droga ele deve estar ficando bravo. Eu desço e ele diz que vai me esperar no carro. Mas nós gostávamos tanto de passear nos supermercados americanos, comparar os preços, apreciar os doces?! Droga! O que tinha o moço? Eu volto só com um suco de laranja e um saco de mini laranjinhas. Ele olha e fica histérico, era pra isso que você queria um super mercado? Eu não respondo nada. Aí eu disse já quase chorando que não o estava suportando. Ele berra o mesmo mais alto que eu e desce do carro em plena avenida. Eu pulo pro banco do motorista e tiro o carro dali em prantos. O que ele pensa - o miserável ?, eu já não tinha me perdido hoje?! O que ele queria, que eu fosse alcançá-lo? Que pedisse perdão? Que eu o esperasse ali? Ele veria o carro onde eu o coloquei? Droga! Por que fui topar essa viagem? Eu quero mais é voltar pro Brasil e me separar desse pustema! O pustema volta. Eu chorando digo que quem vai sair pra andar agora sou eu. Saio do carro e ele vem atrás. Não vai não, você vai entrar aí e a gente vai embora. Não vou! Vai! Não vou! Vai! E isso acompanhado de tentativas de me empurrar pra dentro do carro. Pensei que era eu que teria que parar com a provocação. Entrei. Ficamos ali parados respirando. Ele mais calmo disse, onde você quer ir. Eu disse tanto faz. E fomos, mas não muito longe.
Ouvimos uma sirene, era um carro de polícia e era pra nós! Estacionamos. Um guarda chegou junto à porta e pediu pra ele descer. Foi imediatamente algemado. Eu desci correndo e me gritaram pra ficar quieta. Esperei. Vieram me perguntar o que tinha acontecido já colocando ele dentro da viatura. Um lado meu curtia o susto que estavam dando nele - aquele nervosinho à toa. Mas eu também estava assustada, o que eles iam fazer?! Contei tudo e o guarda me examinando. A Sra não está ferida? Claro que não, idiota! (O idiota eu não disse). Ele me falou que duas pessoas chamaram a polícia denunciando um caso de violência doméstica. Tentei explicar que tinha sido uma discussão pesada, mas nada de tão violento. Disse que estávamos em viagem, que ele tinha ficado nervoso com as ruas, que tinha saído pra se informar e eu fiquei brava e quis andar também, ele queria me por na marra no carro, mas era só! Pedi pra falar com ele, agora eu já estava morrendo de pena. Não é possível, respondeu o guarda taxativo. Novas viaturas chegaram. Um oficial grandão veio me falar. Repeti toda a história. Nenhuma simpatia; era a lei na Califórnia ele dizia, não se levanta a mão pra ninguém. Ótima lei a de vocês, eu disse. Mas moço o caso aqui foi de discussão não de violência. Nada. Eu vi quando as tais testemunhas chegaram. Interessante eu pensava, o inquérito ocorre na hora mesmo; buscam as testemunhas, elas reconhecem o bandido, agressor, o que seja; já falam com a vítima; interessante. No Brasil iam levar uma semana só pra ouvir as partes. Ta!, tudo muito bom, mas eu quero falar com o meu marido. Fique aí, dessa vez com voz de comando. Entendi que a coisa estava ficando séria, pensei que talvez do lado de fora as pessoas pudessem ter visto aquilo tudo como uma tentativa de seqüestro mesmo, ainda mais esses americanos que tem medo de tudo como diz o Michael Moore.
Fiquei ali parada olhando o pobrezinho dentro daquele carro de mãos pra trás feito criança antigamente. Levaram-no sem ao menos deixar eu pegar um livro par ele ler. Me disseram que ele iria pra delegacia, e eu não poderia visitá-lo. Eu deveria me apresentar na corte de Torrance - que era o nome daquele município onde estávamos -, na manhã seguinte. O oficial grandão me deu um cartão com o endereço da corte e alguns telefones de grupos de ajuda a vítimas de violência doméstica. Sic!!!
Eu tinha que comprar um mapa daquela região, já! Ainda bem que enquanto meu cérebro desesperava meu corpo agia. Meu deus! Eu ali sozinha com meu inglês de merda! E sem grana! (Que, aliás, era essa a grande lição – pobre não pode viajar!) Resolvi ir imediatamente pra frente da corte, eu iria dormir ali mesmo, que devia ser seguro e no dia seguinte eu não precisava sair procurando. Não tinha a menor idéia de onde eu estava nem pra onde devia ir, eu seguia os fluxos maiores, ou decidia por pura intuição quando era o caso. Essa cidade era como as outras, as pessoas não andavam pelas ruas porque só andam de carro. Não há comércio espalhado pelos bairros; é tudo concentrado em alguns pontos. Nestes, a gente encontra todas as lojinhas juntas: lavanderias, padarias, relojoarias, lanchonetes, tudo. Parece uma Brasília piorada, é horrível! E eu procurava um destes pra achar um mapa. Finalmente encontrei; nada que cinco dólares não resolvesse. Começou ali minha paixão pelos mapas, e também o meu regime; vi que eu estava longe do lugar, mas graças aos céus o sol se ia bem tarde nessa época do ano na Califórnia, e daria tempo d’eu achar o lugar antes que viesse a noite.
Que noite! E ele meu deus, como estaria? Teria ligado pra embaixada, consulado ou sei lá que órgão que deveria estar do nosso lado? Quem teria por companhia? Dormiria? Mereceria o que lhe acontecia? Decidi que sim só se fosse só por aquele dia. Teríamos o que contar na volta, isso é que era lei, uma noite na cadeia por ameaçar bater na mulher, êta país bom os steits! Antes de dormir, escrevi uma carta de amor.
Acordei com o sol e quase saí pra correr tão lindo o dia; mas afinal eu tinha que me apresentar na corte ‘limpinha’ e não tinha um banheiro pra tomar banho. Entrei no prédio uma hora antes do necessário, não só por ansiedade, mas também porque as indicações do que eu teria que fazer ficavam no endereço do prédio mais nada! E agora, ali, o que fazer? A senhora elegante da mesa de informações foi, pra dizer o mínimo, grossa - como aprendi que eles são na segunda frase, depois de já terem passado uma boa primeira impressão na primeira. (Prefiro os que sãos grossos logo na primeira frase, como os espanhóis por intimidade, ou mesmo os franceses por tradição). Me explicou apenas o mínimo: a fila que eu deveria seguir. Depois de uma hora nessa, uma única informação a mais: a sala do juiz (juíza, melhor dizendo) a qual eu deveria me dirigir. Lá chegando, consegui falar com um guarda que confirmou que o meu marido seria ouvido ali, mas não sabia dizer quando nem nada mais.
Enquanto eu assistia os outros casos ali, eu chorava, um pouco de tensão e preocupação, um pouco pra ver se alguém se apiedava e vinha falar comigo, me explicar o que ia acontecer ali; eu não tinha a menor idéia de nada! Funcionou; quer dizer, um pouco. Se aproximou um homem, eu lhe disse rapidamente do que se tratava e ele disse que era promotor, mas que a advogada do meu marido viria falar comigo. Meu deus, quem era essa? Onde ela estava? Nada! Tudo ali parou para o almoço, tentei dar um novo chilique, pedi pra chamarem a juíza, e quase o guarda comete novo ato de violência não doméstica comigo.
Quando voltaram todos, não tardou que fosse o nosso caso o próximo. Eu o vi sem óculos, mãos pra trás, com a roupa de praia do dia anterior, cara de humilhado; mesmo assim riu pra mim. Tentei me aproximar da loira fria perto dele que deduzi ser a advogada, mas ouvi um stop de toda altura. Os papéis andando de uma mesa á outra e nada da mulher vir falar comigo; nem mesmo com ele eu a via falar! Também havia junto um rapaz fazendo as vezes de tradutor. Então a loura gelada da advogada começou a explicar para a loura gelada da juíza o caso. Fez um resumo porco, nos colocou como andarilhos mais que turistas; e enquanto a juíza checava os relatos, eu supus, à sua frente, ouvi ela explicando a ele as conseqüências das alegações de culpado ou inocente. Intuí que ele deveria alegar culpa e pedir desculpas por incomodar a todos com seu comportamento descontrolado, eu achava que essa declaração de um ser inferior, um macho agressivo, perturbador da lei e da ordem, um sul-americano atrasado, iria agradar aqueles ouvidos evoluídos. Ele pensou o contrário, tentou dizer que era racional ele ter agido daquela maneira para controlar a mim, nervosa. Eu olhei pras duas louras e pensei: burro!
Ouvi a juíza perguntando por mim, e olhando-me perguntou se eu queria me manifestar – mas não era óbvio! Disse que éramos marido e mulher há quase 20 anos, não namorados histéricos, tínhamos três filhos, viajávamos de carro e ele ficara stressado com o trânsito e os mapas, tivéramos um dia ruim apenas isso. Ela perguntou-me se eu me sentia segura ao lado dele, ao que eu respondi que sim, e que insegura eu estava sozinha pelas ruas daquele lugar desconhecido. Quando ouvi suas palavras logo a seguir vi que as minhas não tinham valido de nada. Ele deveria aguardar um mês preso a um julgamento ou sair sob fiança de 20 mil dólares.
Eu quis subir no pescoço da advogada ainda mais no que da juíza. Mais tarde descobri que eu estava certa sobre o que seria a alegação correta. Se ele tivesse declarado culpa, dariam uma pena mínima (talvez até a noite já dormida na cadeia) e caso encerrado. A declaração de inocência implicava automaticamente que o caso deveria ser investigado. Enfim, testemunhas novamente ouvidas e outras averiguações que tais até as interpretações finais dos advogados em frente a um júri popular. E o pior: a convocação deste só deveria acontecer passado no mínimo um mês. Meu deus e agora?! E eu ainda não poderia falar com ele?
A advogada só foi falar comigo lá fora, findos os trabalhos. Me deu um número que dali em diante era a identidade penal do meu marido, pelo qual eu teria que perguntar num número de telefone que ela também me informava. Se irritou que eu também levantei a mão pra ela, eu lhe esclareci que os italianos tinham esse hábito, que não era nenhuma ameaça minha à sua integridade física (pelo menos não enquanto eu estivesse na terra dela). Só isso, mais nada.
Cerquei o rapaz que servia de tradutor buscando mais informações. Só o que ele pode me explicar era que a fiança a ser realmente paga era apenas 10% da soma aventada pela juíza, que os 20 mil só recairiam sobre alguém que saísse com 2 mil e depois não comparecesse ao júri. Fui perguntando a qualquer um onde estava meu marido. Nada. Fora do prédio, um guarda me disse que ninguém que tivesse passado por ali voltava pra delegacia, que iriam para o presídio central em LA. Não acreditei, seria possível? E agora, quando eu falaria com ele? Meu deus, pra que tipo de lugar o levariam? Consegui nem sei como - sei sim: chorando - entrar no porão do prédio onde todos os réus aguardavam o ônibus que os levaria dali. Pedi pra falar com ele; me disseram que era impossível; me sentei no chão e logo após me trouxeram umas coisas dele num saco plástico (óculos, carteira, relógio) e um bilhete, carinhoso e preocupado comigo. Pedi se eu podia escrever-lhe também, e deixaram. Escrevi o essencial: que daríamos um jeito logo naquilo e que o amava.
Tive vontade de seguir o ônibus, mas achei mais racional descobrir o endereço do consulado e ir direto pra lá mesmo que só fossem me atender no dia seguinte. Diferentemente de San Francisco, por ali não havia os cafés e os barzinhos com internet paga. Ridículo eles não terem terminais pro povo usar gratuitamente na própria corte. Pseudocivilizados! E os telefones públicos deles?, são um saco! São mil tipos de cartão, cada um com direitos diferentes; a gente liga pra vários números até poder ligar pro número do telefone que se quer. Descobrir o telefone do consulado já me deu algum trabalho, mas eu não imaginava como seria pior pra conseguir o endereço! Nenhum daqueles atendentes imbecis entendia que o telefone eu já tinha obtido, precisava agora do endereço! Sei lá quantos dólares gastei pra que me ouvissem direito após uma meia dúzia de ligações.
Mas enfim, sabida a rua, mapas todos à mão - inclusive um grandão que eu comprei no intervalo do almoço com a grana que eu não almocei e que tinha toda a grande LA, alcançando as praias -, e meu Dodge Stratus - que desde a noite anterior era o meu maior amigo - lá íamos nós. E não é que eu estava mesmo me sentindo poderosa naquele carrão?!. Dirigindo com decisão, escolhendo rotas, não errando as entradas, e agüentando passar mais um dia só com o meu suco e o meu saquinho de laranjinhas - o pivô da minha separação do maridão. Meu querido, se não fosse ele estar na cadeia eu até estaria achando divertido estar me virando tão bem ali sozinha. Seriam mesmo diferentes os presídios americanos dos brasileiros? Bem, descobriríamos em breve.
Achei fácil o lindo prédio onde ficava o consulado brasileiro em Los Angeles. E achei fácil também o meu hotel improvisado. Era numa rua bem ao lado, onde a última casa estava, pros meus olhos de lince, claramente abandonada. Uma casa chic, num bairro chic com garagem e sem portão?! Era tudo o que eu queria, ou pelo menos, o que eu podia querer... Era ali mesmo que eu iria passar a noite; que foi tranqüila graças a deus (para quem eu passei a rezar todos os dias).
No dia seguinte eu acordei cedo o suficiente pra tomar banho numa torneira no quintal. Tomei mais um gole do meu suco de laranja e fui pro consulado, deixando o carro ali, que era pra não pagar nem o paquímetro. Felizmente me receberam bem no consulado. Só precisei resumir a minha história no guichê para que a moça visse que era sério o suficiente pra que me chamasse alguém bem graduado. Ele chegou daí a uma meia hora. Muito simpático, super gentil, quase carinhoso. Mostrou interesse, mas, objetivamente, o consulado tinha poucos recursos para me ajudar. Fizemos uma série de ligações para vários advogados, negociei com um deles seus honorários e a estratégia a seguir - basicamente a mudança da alegação de inocente para culpado que tirando os riscos de perda de visto de entrada nos USA evitaria enfrentar uma corte e ainda no final de um mês. E lá fui eu para a minha primeira visita à LA County Jail, combinando retornar ali na manhã seguinte.
Foi bom achar sem muita dificuldade o lugar certo, e deixar o carro perto sem precisar pagar estacionamento. Uma vez lá dentro, fiquei chocada com a quantidade de mulheres, a grande maioria de origem hispânica, esperando calmamente que chamassem seus nomes. Conversei com muitas, deu pra perceber que ali só se encontravam mesmo os que cumpriam penas menores, como me tinha dito o cônsul. Minha espera chegou a quase duas horas, mas valeu a pena. Lá estava ele de trás do vidro, de uniforme azul, sem óculos, cheio de coisas pra contar de como aquilo, apesar dos pesares, estava sendo uma experiência e tanto. Tínhamos vinte minutos, não era o suficiente para tantas dúvidas sobre tantas coisas; mas foi o suficiente pra eu me acalmar sobre como ele estava ali dentro e pra eu acalmá-lo sobre como eu estava lá fora. Cortado o telefone, pelo qual nos comunicávamos por trás do vidro, ficamos ainda muitos minutos escrevendo coisas pro outro ler, coisas melosas e gostosas como eu te amo.
Voltei tão feliz que pensei que conseguiria comer uma torta maravilhosa que vi no café de uma livraria grande onde entrei pra comemorar, gastando um pouquinho do que eu economizara ao longo do dia. Mas não consegui engolir. Comprei um DVD de um filme maravilhoso que a vida inteira eu procurei pros meus filhos verem e nunca tinha achado em locadora alguma. Fui andando devagar pra casa reparando se ninguém me veria entrar, tanto cuidado me fez parar pra amarrar a sandália e deixar passar um transeunte – na verdade um tarado que me passou a mão na bunda e saiu correndo. Menos mal, já pensou se me visse entrar na casa abandonada e me achasse presa fácil? Também não me viram nenhum vizinho nem ninguém mais naquela rua quieta, pra não dizer completamente deserta. E fui dormir feliz como acho que devem ficar todos os sobreviventes de qualquer desgraça humana ou natural.
A noite foi quase tranquila. Eu dormia bem quando uma luz forte de farol me acordou. Tive de sair do meu esconderijo e vigiar do lado de fora pra me certificar de que não eram os proprietários (alertados por um vizinho qualquer e que chamariam a polícia logo depois); ou a polícia (fazendo uma ronda de rotina); ou os bandidos (espectro que ia de um homeless a um traficante procurando sua droga escondida ali na minha garagem). Constatei, depois de uma hora sem dormir, que devia ser gente como eu poupando o estacionamento e quem sabe até o hotel; voltei e dormi até o sol me acordar.
Como é bom acordar com o sol, se sentir leve (é o que acontece se a gente fica sem comer quase 48 horas) e disposto pra um novo dia de luta. Comecei indo correr num parque pequeno logo três ruas abaixo. Ali mesmo tomei um banho de torneira, troquei toda a roupa e saí cheia de esperança pro consulado. Meu simpático cônsul – de fato não era bem esse o seu posto – me esperava com notícias ruins de uma ONG que ele tentara contatar para nos ajudar. O advogado que eu tinha acertado no dia anterior não ligara ainda com nenhuma novidade. Sem muito o que fazer, ficamos ali conversando por mais de duas horas sobre o Brasil, os Estados Unidos e o mundo, e já estávamos mesmo quase amigos; entretanto, não passou pela cabeça dele, nem me convidar para sua casa, nem perguntar a qualquer funcionária mais desimpedida se podia me hospedar por alguns poucos dias. De fato, todos diziam estar preocupados comigo dormindo na rua, mas ninguém me ofereceu sequer uma garagem.
Fui para a segunda visita um pouco apreensiva, mas confiante em receber um telefonema do advogado a qualquer momento. Aguardado o tempo regulamentar ouvi de novo o chamado para eu entrar. Ali estava ele mais uma vez só que agora com outro uniforme – tinha sido promovido a ajudante de cozinha e tinha mil histórias pra contar. Rimos muito e novamente saí tranqüila pensando que interessante experiência estávamos tento os dois. Eu só não queria que ela se estendesse demais até que esbarrasse em algo maior que as nossas forças. Se ele parecia quase conformado em passar ali o mês esperando o dia do julgamento final – que ele acreditava ser melhor que a gente se endividar pra pagar advogado -, eu só queria vê-lo fora e mais nada. Com essa disposição voltei mais uma vez ao consulado pra esperar ali a ligação do advogado.
Essa veio sim, mas no dia seguinte e com um péssimo conteúdo. O sujeito sugeria pra eu desistir dele, procurar a defensoria pública, a mesma que ajudara a engaiolá-lo, e ver com eles a possibilidade de uma mudança na alegação de culpa. Nesse dia entrei arrasada no salão de visitas; o pobrezinho me viu tão triste que não sossegou enquanto eu não prometi que dormiria na casa da mulher de um amigo mexicano que ele fizera na cozinha. Eu estava tão decepcionada com o advogado que estendi a todos essa decepção. Não apareci no consulado e me conformei de passar o final de semana sozinha e sem nenhuma estratégia em vista.
A casa dos mexicanos foi outro capítulo interessante da experiência toda. Era uma família grande, onde as mulheres ainda têm sete ou oito filhos. Todos muito ligados entre si, de tal maneira a se arriscarem a passar pela fronteira super policiada quantas vezes forem necessárias até que todos os parentes mais diretos estejam ali na terra prometida. A casa era muito feia, bagunçada e suja. Três quartos: um para a matriarca de quarenta e cinco anos, quinze netos e um bisneto, e dois para dois filhos e respectivas esposas e seus vários filhos. Além destes outros dois solteiros dormiam na sala. Eletrodomésticos não faltavam, tinham de tudo até um computador com Internet; por outro lado, cada sub-família tinha seu próprio papel higiênico pra levar ao banheiro quando necessário.
Eu não fazia outra coisa que não refletir sobre o que seria a tal da solidariedade. Ali naquela casa me recebiam sem nenhum conhecimento, me tratavam como igual, carente de ajuda e ponto final. Não que eles fossem puramente generosos, mas estavam dispostos a trocar. Os favores cruzados começaram na primeira hora: eu recebia um copo d´água e traduzia algo na lição de casa da menina; me davam cama e banho, e eu comprava alguns alimentos e conduzia a mulher aqui e ali; no dia seguinte eu a levaria para visitar o marido pela primeira vez em cinco meses! Ela tinha carro (a família toda tinha três), mas tinha medo de dirigir e falava quase nada de inglês. Eram solidários comigo, mas quase não nos falávamos, não sabiam ser muito gentis, eram até grosseiros, e quase rudes mesmo entre si. Eu pensava no pessoal do outro lado, nos funcionários do consulado que protegiam suas casas de mim como se eu fosse um invasor extraterrestre, mas sabiam conversar, pareciam torcer por mim e acenar com uma camaradagem futura.
Eu pensava no filme do Lars Von Trier sobre a cidadezinha americana que recebe uma fugitiva e estabelece com ela uma troca na qual ela dá tudo o que pode e a comunidade finge que lhe dá solidariedade. Meu amigo quase cônsul me lembrava o personagem principal - o rapaz que era a consciência crítica da comunidade e parecia o mais desinteressado, mas cuja bondade era de fato pura vaidade. Será? É, mas foi ele a quem recorri triste demais no final do sábado depois da visita; e foi ele que voltou comigo para a visita do domingo; que conversou comigo durante horas enquanto esperávamos a nossa vez; que me sugeriu um lindo passeio no museu Paul Getty no fim daquela linda tarde de domingo; e que, o melhor de tudo, prometeu ir comigo no dia seguinte (segunda) à corte de Torrance procurar convencer a defensoria dos equívocos todos do nosso caso.
Fui feliz conhecer a mais uma das maravilhas da sociedade americana: o que faz um milionário com seu excesso de rendimentos. A visita ao museu Getty foi incrível - a arquitetura, os jardins, as coleções, a vista lá do alto, a liberdade de movimentos lá dentro, o poder molhar os pés nos riachinhos artificiais entre as pedras, rolar na grama...só não era tudo perfeito porque eu estava sozinha. Sozinha era melhor estar numa free way, ouvindo música e voando, mesmo com as rodas no chão.
E foi assim sozinha que eu preferi dormir - ao invés de voltar para a casa dos mexicanos. Só, no carro, na praia. Eu não tinha medo, ou se tinha era aquele que eu achava que iria vencer e me considerar mais depois. Acordei cedo, corri na praia, fiz posição de yoga – invertida sobre a cabeça - pra todo mundo ver e achar bonito, e eu ver o mundo todo de ponta cabeça, o mar em cima, o céu embaixo. Tomei banho no chuveiro público, lavei os cabelos com shampoo e tudo, me troquei no carro e lá me fui para a corte.
Meu amigo demorou um pouco além do prometido, mas chegou, e, a partir dali tudo deu super certo. Encontramos a advogada do dia fatídico e eu ficava de longe só apreciando ele conversando com ela daquele jeito elegante dele, mais civilizado que o mais civilizado dos homens! Eu já estava quase apaixonada por este homem contrário do meu. A Loura gelada parecia que se derretia coma a sua fala. Eu pensava que aquela feminista equivocada não amolecia toda pela autoridade do cargo dele (que nem era muita), nem pelo belo dos seus olhos (que também não era muito), mas pelo doce das suas palavras e do seu jeito de usá-las. Eu quase tinha ciúmes. Felizmente ela ia e vinha chamada por um e outro caso, e ele ficava conversando comigo de novo. Será que eu ainda pensava no meu marido preso? Claro que sim! O coração, como o cérebro, é muito mais potente do que se imagina...
Ao fim da manhã conseguimos – ele conseguiu - que meu marido fosse recebido na corte no dia seguinte. Mais: a advogada se empenharia em fazer um acordo com a promotoria - em troca da alegação de culpa a consideração dos dias já passados na cadeia como pena cumprida.
E foi assim que tudo sucedeu. Na manhã seguinte eu o vi entrar num novo uniforme. Fiquei apreensiva sem saber se ele tinha sido instruído sobre o que deveria falar; de qualquer modo ele parecia menos seguro, mais pronto a obedecer sem questionar. Fiquei feliz com isso, talvez feliz até por sentir que ele devesse perder mesmo um pouco de sua segurança (de sua arrogância de macho latino talvez?). A sentença do juiz incluía, além dos dias passados na prisão, tratamento psicológico de um ano, sendo que relatórios mensais deveriam ser remetidos àquela corte, sob pena de ele ter seu visto caçado. Tudo acabou rápido e eu fui informada que ele sairia comigo dali ainda que isso demorasse algumas horas pro trâmite da papelada.
Demorou mesmo, mas quase às quatro horas lá estava ele: calças e camisa brancas muito largas, uma sapatilha esquisita e mais nada. Tinha uma cara um pouco apatetada e durante todo esse dia, e também o seguinte, me contava coisas e se esquecia de que já tinha contado. Não sei porque eu achei que devia levá-lo à praia – talvez porque pra mim o significado de liberdade seja a vista mais larga que eu conseguir -, e como ele não soubesse dizer o que queria... Ele deitou na areia e dormiu mais de uma hora. Eu tentava pensar enquanto isso. Eu amava aquele homem? Meu deus e quanto! Mas eu não tinha estado tão bem sem ele? Mas só porque ele sairia em breve, e sairia melhor. Mas e o rapaz educado do consulado? É, seria bom que ele fosse calmo como aquele, sério, elegante, quase triste. Mas não! Eu amava o seu humor corrosivo, a sua alegria descontrolada, o seu jeito escrachado, a sua postura não conformista, o seu desejo de tudo, a sua insatisfação com o mundo, a sua fúria assassina da mediocridade, da mesmice! Eu o queria do seu jeito, de qualquer jeito, de todo jeito! É isso: eu o amava.
Mais tarde, quando já estávamos no caminho de volta, ele me disse que se decepcionara com o modo que eu o tinha recebido logo após sua soltura. Disse que esperava que eu fosse me jogar aos seus pés como no dia que eu pensava tê-lo perdido lá na praia. Por sua vez, ele se preparava pra resistir a isso e me convencer de que a nossa relação estava ficando tensa em excesso. Mas então eu não parecia tão desesperadamente apaixonada, e aí? Aí que fizemos amor loucamente durante os últimos dias da viagem. Tivemos momentos ótimos de pura curtição um do outro e dos novos lugares a que fomos. Também tivemos novos momentos de tensão porque eu quis mandar nisso ele naquilo, ou melhor, porque no que um quis mandar o outro também quis.
Voltamos. Continuamos brigando e transando, discutindo e conversando, construindo expectativas e as frustrando, nos afastando um pouco pra depois mergulharmos de novo um no outro. Amá-lo é uma viagem louca pra mim, uma viagem easy rider, sem destino, sem plano de vôo, às vezes até sem piloto. E o mais estranho é que sei que sou eu quem o leva, ou não sei, já que ainda sei pouco de tudo o que há pra saber sobre nós. Mas como essa viagem me parece viva, como a vida me parece rica, como o mundo me parece cheio, e eu pareço que tenho os braços enormes, e ainda posso abraçar o mundo com as pernas. Eu posso tudo com o meu amor, até dizer chega, até dizer continua. Até desobedecer leis, até ser castigada por elas. E penso que tudo o que nos pode acontecer foi o que escolhemos, não somos vítimas de nada, nem de ninguém, somos livres. Amar e ser livre, algum poeta disse algum dia que isso é possível?
~~~~~
escrito pela Glaúcia
uma querida moça bonita
__________________________________________
e é isso
1/2 beijo
aNTONIocARLos
!
2007
:)
___faça o seu comentário aqui em baixo----V
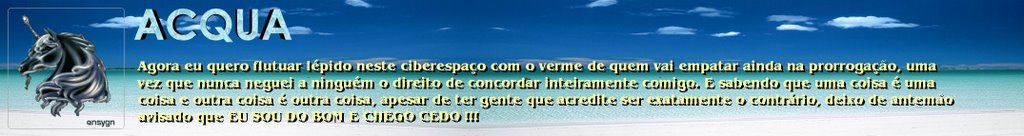


Nenhum comentário:
Postar um comentário